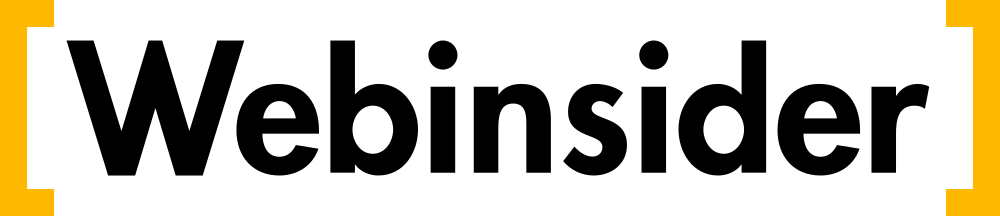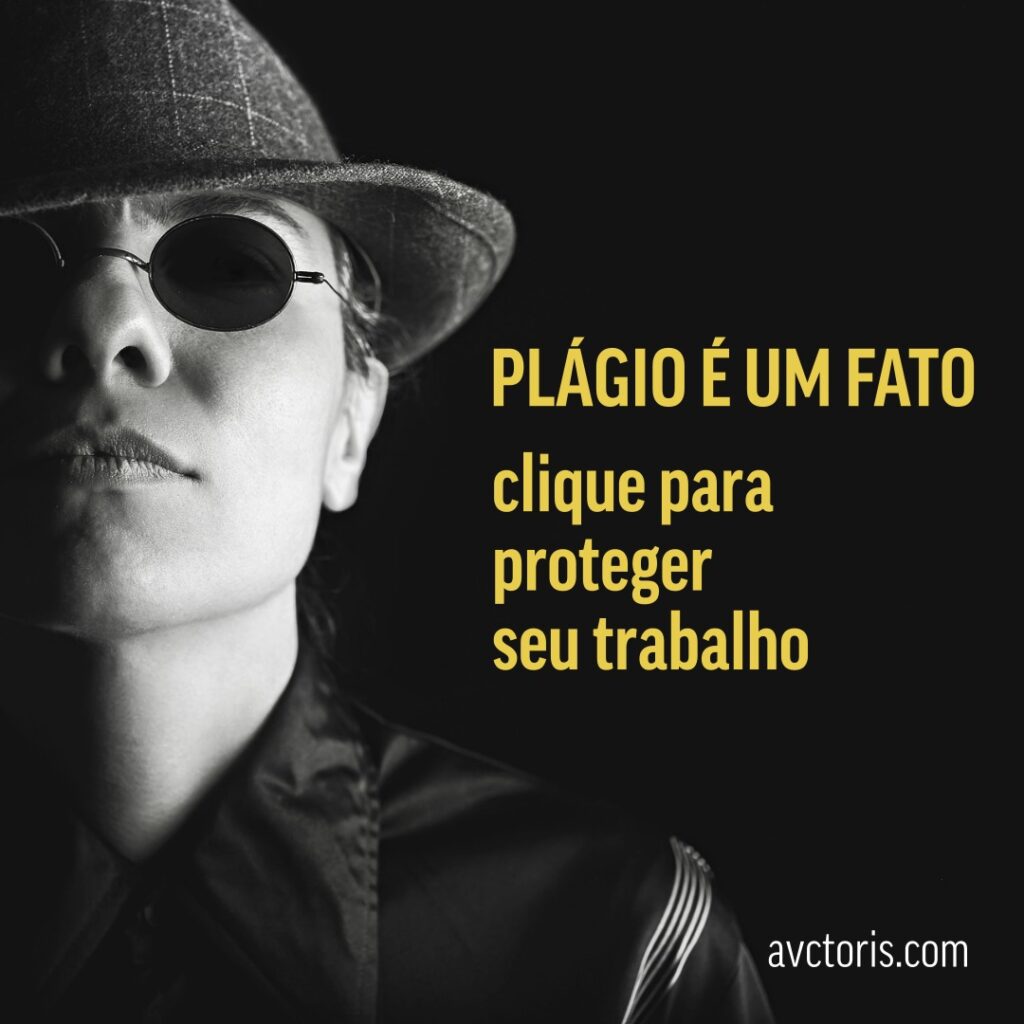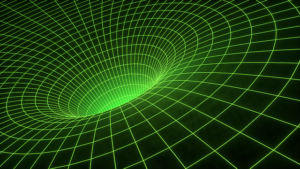Existe, na vida de qualquer adolescente, um momento quando as principais transformações começam a prosperar, e cada um de nós vive experiências singulares, com um ou outro ponto em comum com conhecidos e amigos.
Praticamente quase todas as minhas amizades da adolescência que ficaram por mais tempo, uma destas coisas em comum foi “ouvir música”, e como tudo isto é precoce, a evolução do gosto por um gênero ou outro é bastante função da nossa evolução como indivíduo e da nossa experiência de vida.
E foi por estes dias, que a empresa Analogue Productions, depois de prometer meses a fio, lançou finalmente o álbum “!!!!!Impulse!Art Blakey!Jazz Messengers!!!!!”, originalmente produzido por Bob Thiele, para a Impulse Records, sob o número A-7.
A edição é uma transcrição em DSD dos originais estereofônicos para SACD. O trabalho é contratado, segundo a empresa, para remasterização na AcousTech, especializados neste tipo de restauração.
Nos meus 13 anos, mais ou menos, eu descobri o jazz, depois de passar anos ouvindo a música popular da moda. Pois é, leitores, até então eu era mais um fã da Cely Campello e do rock americano, e tinha um disco 78 r.p.m. com “Banho de Lua” de um lado e “Estúpido Cupido” do outro. Não que nada disto não tivesse o seu valor, mas uma vez experimentando algo que, de fato, encaixa como uma luva nos nossos neurônios, nada mais do popular faz qualquer sentido!
E foi neste embalo que eu achei o disco do Art Blakey, mono, tocado na vitrola dos meus pais da época, uma Telefunken Dominante, à exaustão. E foi também nas contracapas escritas pelo maior expert em jazz deste país, o jornalista José Domingos Raffaelli, que eu aprendi muita coisa sobre o gênero. A propósito, Raffaelli e eu chegamos a trocar vários e-mails, ainda na época em que eu militava como professor na UFRJ, e ele no jornal O Globo. Foi uma chance, aliás, que eu tive de me declarar fã do seu trabalho como crítico de música, e de receber dele muitas e boas informações sobre o jazz e principalmente sobre a bossa nova. Infelizmente, toda esta correspondência foi para o limbo quando eu saí de lá, culpa minha de não ter feito a necessária cópia.
Raffaelli, como poucos por aqui, escrevia com detalhes e com a sua abalizada opinião, as contracapas de vários Lps que eu comprei nesta época. Desnecessário dizer que estas leituras em muito me influenciaram no gosto pelo jazz e no aprofundamento posterior da história desta música, que teriam resultantes positivas na minha vida como ouvinte de música.
E agora, ao me deparar e ouvir, a nova transcrição em SACD de um álbum que eu agora considero clássico, eu sou compelido a constatar que todos estes períodos de transição deram um significado especial à minha formação como pessoa e apreciador da arte musical alheia.
O som do SACD dos Jazz Messengers é, em resumo, perfeito! Eu tenho ainda a edição em CD MCA/WEA, prensada na Alemanha. O som é bom, mas não se compara ao SACD. Muitas destas matrizes eram gravadas diretamente em dois canais, e se existe alguma coisa em contrário, ela deverá estar perdida em algum arquivo da gravadora. O resultado da transcrição para DSD dos dois canais demonstra o máximo de qualidade que se podia chegar no selo Impulse àquela época, cuja maioria das sessões era capturada em ambiente de estúdio com pouca ou nenhuma reverberação. Ainda assim, neste álbum dos Jazz Messengers existe uma dinâmica exemplar, e sem nenhum traço audível de distorção. Em outras palavras, um prazer auditivo aliado à qualidade dos músicos e do repertório.
No disco, aparece o então jovem e inspirado trompetista Lee Morgan, assassinado aos 33 anos por sua mulher após uma briga de casal, dentro um clube noturno onde o músico se apresentava. Um total desperdício de talento. Mas, nenhum dos outros músicos fica atrás em virtuosidade. O disco como um todo é notavelmente lírico e o interessante é que Art Blakey ficou conhecido como o músico que reunia músicos jovens e emergentes no seu “Jazz Messengers”, conjunto este, que por isso, varia de composição a todo instante.
São coisas assim que tornam as sessões de gravação momentos singulares e jamais repetidos. É claro que as mensagens musicais destes momentos poderá ter receptividade em alguns poucos, e certamente o foi no meu caso e de muitos amigos. E, no final, acabam por justificar que a gente gaste mais dinheiro (no caso de um disco caro como este), só para ter aquele algo mais em uma emoção amplamente conhecida.
E neste mesmo período de vida e nos anos subseqüentes, eu ainda tomei conhecimento da participação destes mesmos músicos em diversos filmes franceses da época da Nouvelle Vague, em filmes “noir” e assemelhados.
Se o leitor tiver interesse e der sorte, ainda pode achar à venda alguns destes exemplares, na forma de reedições em CD. A capa de uma delas é mostrada a seguir:
No dia em que eu comprei este disco dos Jazz Messengers eu também levei para casa o álbum de Dizzy Gillespie “Something Old Something New”:
O disco foi reeditado, para sorte minha, em excelente remasterização a 20 bits de resolução, e transcrição limpíssima para CD.
Na época do Lp, o já velho be-bop era para mim uma novidade. Até então, o mundo do jazz estava restrito ao clássico tradicional, propulsionado pelo genial Louis Armstrong. Nas primeiras audições do be-bop, nada daquilo fazia musicalmente sentido, mas o tempo se encarregou de mostrar que era apenas uma forma diferente de tocar a mesma música.
O conflito entre o tradicional e o “novo” (“velho” para aquele Lp) não estava somente na minha cabeça. Depois de ler “A História do Jazz”, livro escrito por Barry Ulanov, eu descobri que o foi o próprio Louis Armstrong quem primeiro havia reclamado da maneira de tocar dos proponentes do be-bop. A briga havia sido feroz, mas no final, entre mortos e feridos, salvaram-se todos! Armstrong fez as pazes com Gillespie e é possível hoje assistir um clipe de vídeo com os dois tocando juntos:
Afinal, apesar das diferenças de estilo, o jazz não é tão diferente assim, e a sua essência se ancora rigorosamente nos mesmos preceitos: o blues do início do século 20!
Be-bop, Bebop ou Rebop são nomes diferentes para classificar a mesma coisa. Antes dos beboppers, Louis Armstrong já havia inventado o scat singing em 1926, técnica usada por aqueles músicos, na forma chamada depois de vocalese. E se a gente prestar atenção, irá notar que muito do que os boppers tocavam eram reinterpretações de músicas conhecidas.
No álbum de Dizzy Gillespie, o “algo velho” são músicas da década de 1940, quando supostamente o bebop começou. E na seção do que se chamou de “algo novo” (o disco foi gravado em 1963), a gente acha até bossa nova (“This Lovely Feeling”), tocada do jeito americano da época.
É curioso com algo tão “velho” poderia ser tão anticonvencional, para não dizer “revolucionário”, se o termo não for muito forte. Mas, é que depois do be-bop, o jazz ainda encontraria forças para evoluir ainda mais.
A sorte de quem os viu!
Eu sou um dos que não foram privilegiados em ter visto Louis Armstrong em turnê pelo Rio de Janeiro. O músico e seu grupo tocaram no antigo Maracanãzinho na década de 1950, para uma platéia gigantesca, mas eu era muito pequeno para ter ido lá.
Dei sorte, porém, de ter visto Ella Fitzgerald, Horace Silver, e Duke Ellington no Theatro Municipal, e Art Blakey no Teatro João Caetano. Todas elas performances inesquecíveis.
Na década de 70, ainda estudante na Praia Vermelha, fomos eu e a Silvia Rabello, minha colega de campus e super ligada em música, assistir Dizzy Gillespie no Cine Super Bruni 70.
Depois de um tumulto para conseguir entrar (o lugar estava entupido de estudantes e fãs) nós conseguimos sentar em uma posição que dava para ver o veterano músico se ausentar do palco improvisado para fumar um baseado, enquanto seus colegas de profissão se esforçavam em solos diversos.
Louis Armstrong também nunca abriu mão de puxar um fumo, e foi assim até morrer. Dizem os músicos que o acompanharam que ele quando atingia um certo estágio de excitação ele começava a repetir “I’m ready, I’m ready” (alguns destes momentos inclusive registrados em película), dizendo estar “pronto” para encarar mais um desafio diante da platéia.
Talvez a gente ache hoje uma tolice músicos deste calibre terem tido medo da platéia ou do palco, ou até mesmo a insegurança dominada pelo ato de se intoxicar, mas a alma humana sofre mesmo e eles nunca foram imunes. E é deste sofrimento, como dizia Michel Legrand, que nasce a beleza da música que tocam! [Webinsider]
…………………………
Acompanhe o Webinsider no Twitter e no Facebook.
Assine nossa newsletter e não perca nenhum conteúdo.
Paulo Roberto Elias
Paulo Roberto Elias é professor e pesquisador em ciências da saúde, Mestre em Ciência (M.Sc.) pelo Departamento de Bioquímica, do Instituto de Química da UFRJ, e Ph.D. em Bioquímica, pela Cardiff University, no Reino Unido.