Se alguma coisa séria se pode dar crédito ao “studio system” de Hollywood é a sua capacidade de criar estrelas para o cinema, tanto para atores masculinos quanto principalmente femininos. E são nestes últimos que alguns dos momentos mais marcantes do cinema americano foram levados à tela prateada, independente da qualidade do filme exibido.
Mas, os anos se passam, e o rótulo de “estrela” já não é mais o mesmo, não pelo menos da maneira como os estúdios daquela época o fizeram durante anos. Na verdade, com o encerramento do studio system foi-se embora junto aquela fábrica de estrelas carismáticas, a maioria incapaz de sobreviver sem a ajuda dos departamentos de publicidade nos quais foram criadas. O resto, justiça seja feita, foi devido ao talento daqueles atores em encarnar na tela o personagem para o qual foram projetados.
O segredo do studio system para a criação do que se chamou depois de “star system” estava em manter uma imagem na tela e paralelamente impedir que o público tivesse noção de como era a vida pessoal destes artistas. O segredo era necessário: várias estrelas tiveram uma vida pessoal turbulenta ou passível de recriminação pelos fãs.
Em outros casos, foi porque a exposição na mídia exibiria uma imagem em completa contradição com o tipo de personagem encarnado no cinema. Um caso notório foi o do galã Rock Hudson, estrela de dezenas de filmes na Fox e outros estúdios, mas que na vida privada era homossexual e foi vítima de AIDS. Esta característica de Hudson só veio à tona depois que ele morreu.
A construção dos mitos
Eram os estúdios que decidiam qual seria a persona do artista na tela, e qual o melhor tipo de filme, melhor roteiro, etc. Uma vez descoberto o potencial do ator ou atriz, o estúdio usava os meios necessários para desenvolver o personagem. E quando o cinema passou de mudo para sonoro, quem mais lucrou foi o profissional chamado de “dialogue coach”, uma espécie de disciplinador de entonação de voz e maneira de falar. No caso norte-americano, a referência era (e ainda é) o inglês britânico acadêmico, perceptível claramente nos atores antigos americanos.
Hollywood não se poupou nem se inibiu em dublar atores e atrizes em filmes musicais, reconhecendo que os mesmos não tinham a capacidade necessária para cantar corretamente. Em “West Side Story” (no Brasil, “Amor, Sublime Amor”), Marni Nixon dubla Natalie Wood e depois faz o mesmo com a voz cantante de Audrey Hepburn em “My Fair Lady”. Em West Side Story são vários os atores dublados, mas deve-se entender que o musical foi escrito em tom operático, ou quase isso.
O sexo dominou o cinema durante anos a fio, em cenas acompanhadas pelo olhar de desconfiança e censura do Código Hays. Mesmo assim, grandes deusas foram maquinadas e exibidas com proficiência nas telas de cinema.
Uma dessas deusas, que me veio à memória recentemente, foi nada menos do que Ava Gardner, que aparece com inacreditável carisma em “One Touch of Venus” (no Brasil, “Venus, a Deusa do Amor”). O filme foi mais ou menos restaurado, saiu em DVD e Blu-Ray, mas ambas as edições com completa ausência de informações ou abordagens históricas sobre o filme e a atriz.
Eu devia ter entre oito e dez anos, quando um vizinho alugou a cópia deste filme em 16 mm, e nós a projetamos dentro de casa. Acreditem que a única cena que ficou na minha memória foi quando Ava Gardner pergunta como o seu admirador se apaixona, para logo em seguida cantar de forma sedutora “Speak Low”, a obra-prima de Kurt Weill.
O andamento original da música (que veio da peça da Broadway com letras de Ogden Nash), baseado num compasso latino lento e sensual, eu nunca vi repetido. Ava Gardner foi dublada pela cantora Eileen Wilson, que tem uma voz doce, e coerente com a cena em todos os sentidos.
Speak Low acabou por se tornar um ícone do jazz moderno e da música popular, tendo tido versões orquestrais ou cantadas, mas sem nunca lembrar a cena do filme. E isto, creio eu, se deve à presença marcante de Ava Gardner na tela.
Ava Gardner, a atriz, não nasceu assim. Ela era do interior do estado da Carolina do Norte, mais especificamente de uma família de fazendeiros. Dizem historiadores que Ava tinha um sotaque local tão forte, que era difícil entender o que ela dizia. Mas, quando a M-G-M resolveu contratá-la, uma das principais e primeiras providências foi colocá-la sobre a tutela do tal “dialogue coach”.
Em relativo curto espaço de tempo, Ava Gardner personificou uma mulher quase mística. Em “One Touch of Venus”, rodado para a Universal em 1948, ela é a própria:
O olhar maroto, da adolescente levada, com a mão na boca indicando, neste caso, uma pseudo timidez, e irresistivelmente sedutora, Ava Gardner é o filme! Sem ela, “Touch of Venus” não sobreviveria como comédia romântica. Críticos da época condenaram o filme por não trazer à tela o musical original da Broadway, jamais poderiam reclamar do “toque” (sem trocadilho) da atriz no filme.
“Touch of Venus”, depois de longo tempo esquecido, foi ressuscitado em DVD e Blu-Ray, com uma trilha sonora maquiada para som 5.1, junto ao original em mono. A trilha 5.1, entretanto, não é ruim, porque espalha na sala os arranjos musicais o suficiente para realçar as cenas nos olhares e ouvidos de hoje.
O fim do studio system acabou de tabela com o star system
O star system teve o seu maior impacto entre as décadas de 1930 e 1960. Daí para frente a interface entre atores e estúdios ficou cada vez mais complicada, com os primeiros se aprimorando em métodos e técnicas mais modernas, e impondo a sua maneira de ser a estes últimos.
Ao longo deste tempo existiram estigmas ou estereótipos, dos quais alguns atores nunca conseguiram se livrar, ou se livraram debaixo de grande dificuldade, tendo que mostrar aos fãs serem capazes de desempenhar outro tipo de papel.
Um exemplo típico foi Sean Connery, que ganhou fama como 007, e penou para se livrar do personagem. Ou de Marilyn Monroe, já citada aqui na coluna, que se fixou no papel da loura burra e símbolo sexual, e depois teve dificuldades de se livrar da imagem deixada na tela.
O legado dos modelos
A mídia moderna usa modelos deste tipo de propaganda, na criação de celebridades, em praticamente todos os campos de trabalho que vivem da imagem em público. Apelidos como “rei”, “rainha”, “imperador” e outras bobagens têm como objetivo mistificar o artista, jogador de futebol, ou seja lá o que for, na frente do público.
Uma das estratégias usadas vem exatamente do star system: a repetição do aparecimento da pessoa cuja celebridade está sendo construída, de forma sistemática, e conectada a algum tipo de evento. A antiga filosofia do “falem mal, mas falem de mim” se aplica a este tipo de conceito.
E quanto se trata da Internet, os sites tipo Facebook ou Tweeter estão aí para cumprir o papel de exposição continuada na mídia de qualquer um que crie uma página ou apelido por lá.
O grande problema deste tipo de legado continua o mesmo de antes: a construção de um mito que na vida real não existe. E na valorização de uma imagem mais falsa do que nota de três. O esquema leva à elaboração de fantasias ou fetiches, na mente dos incautos.
O assunto está muito bem tratado na despretensiosa comédia de Vittorio de Sica “After The Fox” (no Brasil, “O Fino da Vigarice”), de 1966. No filme, o escroque e ladrão Aldo Vanucci explora um ator veterano de Hollywood, que tenta, a todo custo, disfarçar a idade e a falta de vigor de físico, e com o objetivo de seduzi-lo a fazer um pretenso filme de arte, mas na realidade parte de um golpe a ser aplicado, com a proteção do público, de frente com a presença do ídolo.
A criação de mitos em torno de pessoas é uma forma, talvez a mais eficiente, de vender mídia. A propaganda tanto pode ser paga ou combinada entre as partes. Em qualquer hipótese é um desserviço à cultura como um todo, e só serve mesmo para enriquecer os bolsos de quem se beneficia com ela. [Webinsider]
…………………………
Conheça Home Theater Básico, o livro de Paulo Roberto Elias. Disponível para Kindle na Amazon.
…………………………
Leia também:
- Der Untergang
- Cinavia, proteção injusta para o usuário
- O pioneirismo do home video no Laserdisc
- Anatomia de um Blu ray player
- A importância de Ray Dolby na tecnologia do áudio
- Anatomia de um Blu ray player
…………………………
Conheça os cursos patrocinadores do Webinsider
- TreinaWeb – Cursos de Tecnologia da Informação – treinaweb.com.br/cursos-online
Paulo Roberto Elias
Paulo Roberto Elias é professor e pesquisador em ciências da saúde, Mestre em Ciência (M.Sc.) pelo Departamento de Bioquímica, do Instituto de Química da UFRJ, e Ph.D. em Bioquímica, pela Cardiff University, no Reino Unido.
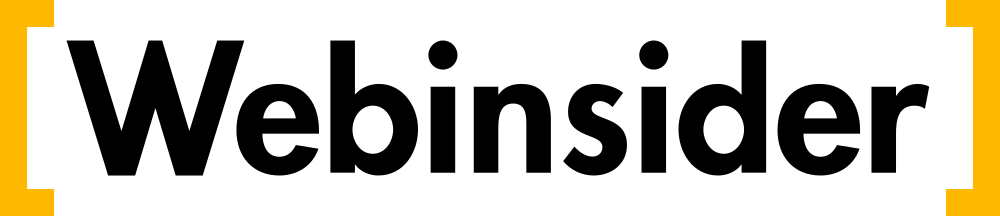

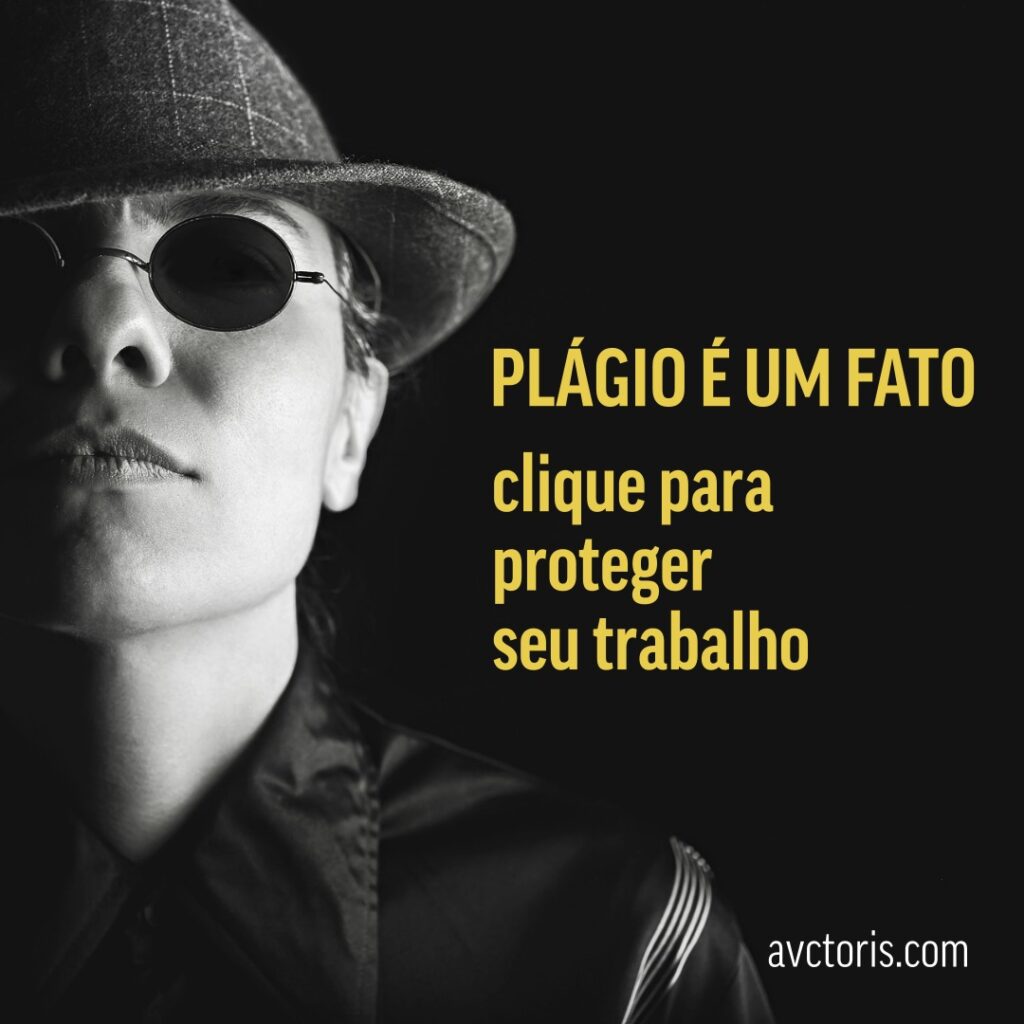



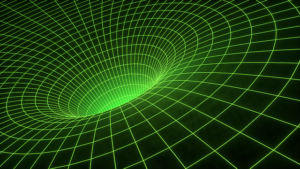










4 respostas
Não mudou muito, apenas se multiplicou o processo, como mini ídolos segmentados.
Pois é, André, um episódio que ficou marcado na minha adolescência aconteceu com um professor de história e geografia do ginásio:
O Rio de Janeiro havia acabado de receber a visita da cantora espanhola Sarita Montiel (fez um filme com o título “La Violetera”, com a música que o Chaplin usou em Luzes da Cidade).
E o nosso professor, que tinha hábito de dar aulas como quem estivesse proferindo um discurso eloquente, entra na sala de aula com uma cara de chateado. E aí discursa:
– Olha vejam os senhores, chega um sábio no Galeão, e aparece uma meia dúzia de pessoas para receber. Agora, vem aí a “rainha do chantecler” (a turma toda começa a desabar de risos) e aparece aquela multidão, uns com um cartão de visitas na mão, pedindo “dá uma cuspidinha aqui” e outros com um vidrinho, dizendo “faz um xixi aqui para eu guardar de lembrança”…
A turma quase se mijava nas calças de tanto rir. Aquele professor era mesmo uma figuraça.
Mas o que ele queria mesmo era que nós, ainda meninos, começássemos a raciocinar que estávamos vendo na mídia.
A minha geração pegava colégios demandantes (eu fui aluno Marista), e quem quiser que acompanhasse, ou tinha que sair ou era expulso. Era, sob muitos aspectos, uma experiência traumatizante.
Porém, é muito mais difícil fabricar ídolos em cima de gente sem formação de base, e nós começamos a nos vacinar contra isso, de certa forma.
As apostas da mídia são nos inadvertidos e, como você mesmo comenta, usando modelos com os quais o ser humano se identifica nas suas frustrações e fantasias.
Paulo Elias,
A mídia vive disso, a literatura, a religião…Usar os arquétipos de macho alfa, a mulher fatal, o guerreiro invencível, o herói messiânico, a princesa virginal. Veja como esta última foi explorada à exaustão pela Disney. O ser humano gosta de viver de ilusão, até que o peso da idade lhe tire as vendas e lhe mostre a vida como ela é.
Aqui no Brasil, a construção de um mito através da exposição na mídia está em voga faz tempo, vide a própria história de D. Pedro II (No Livro “As Barbas do Imperador” de Lilia Moritz Shwarcz).
Mais um excelente artigo!