Estou lendo um livro de Malcolm Gladwell, autor do famoso “O ponto da virada”, chamado “O que se passa na cabeça dos cachorros”. Bom, cachorros são seres que correm atrás do próprio rabo, assim como muitos dos seres humanos em alguns momentos, particularmente os publicitários. Portanto o tema me interessa muito.
Na verdade, gags à parte, é um apanhado dos melhores artigos do autor, colunista regular da revista The New Yorker desde 1996. Acabei de ler o primeiro artigo. Fala sobre a saga, pode-se dizer assim, de uma família americana de mais de um século, que se consagrou como emérita fabricante de utensílios de cozinha.
Explicando melhor: uma família especializada em criar e vender engenhocas para cortar, fatiar, dourar ou grelhar, de legumes a frangos, sem trabalho, sem bagunça e rápido. Engenhocas com nomes magníficos como “alguma-coisa-o-matic”, o tipo de nome clássico da indústria americana (que inveja dos Mad Men dos anos 50).
Gladwell conta, a certa altura, a história do mais recente herdeiro da saga, pelo que entendi uma espécie de pioneiro do infomercial-interminável-num-canal-obscuro nos anos 60. Um vendedor nato, apaixonado por suas engenhocas, mas que não se limitava a ser charmoso e sedutor. Quando ele estava vendendo o “alguma-coisa-o-matic”, o produto era a estrela, e não ele. E o tal sujeito, caraca, tinha o dom da palavra.
Ok. Coloquemos por enquanto numa prateleira o conceito “o produto era a estrela”, ao qual retornaremos mais tarde, e vamos refletir um pouco sobre o dom da palavra.
O dom da palavra. O poder da palavra. Isso me deu uma coceira na cabeça (não, não é caspa) e me lembrou de uma situação que vivi recentemente num site de relacionamento.
Outro dia, vi alguns colegas publicitários do exterior debatendo calorosamente. O tema, traduzindo, era qual o melhor background para um diretor de criação: arte ou texto?
Com todo o imenso e devido respeito à liberdade de expressão e opinião, sempre inalienável, eu acho uma discussão démodé. Assim como acho démodé alguém que encerra a discussão dizendo que “o importante é a ideia”, um clichê monstruoso.
O buraco é mais embaixo. Ou mais em cima. Para mim, o que faz diferença mesmo, e certamente seria o melhor background para um diretor de criação, é sua experiência como… solucionador.
A melhor definição de diretor de criação, para mim, é um “artista do possível”. Ele precisa chegar a uma solução “comprável”, em que pese o prazo curto, a verba rala, a falta de equipe, as idiossincrasias do cliente, a falta de opções no banco de imagem, as insondáveis particularidades do TI, do AI e de um monte de outras coisas terminadas em I, e por aí vai…
Clientes compram solução, pelo amor de Deus. E DCs são melhores ou piores quanto maior ou menor a sua capacidade de juntar todas estas pontas e chegar lá. Eles têm que ser, ou deveriam ser, uma espécie de soluti-o-matic, resolvendo os briefings sem sujeira, sem bagunça, rápido e… com brilho. Mais ou menos como os frangos nas assadeiras da tal família americana do artigo de Gladwell. É mais fácil falar do que de fazer, claro. Mas focar ajuda.
Focar, como?
Que tal voltar lá na prateleira e pegar de volta nosso conceito?
O supervendedor de cortadeiras de cebolas do artigo de Gladwell não tenta ser mais importante que o produto, mais ou menos como os publicitários deveriam fazer. Ou não é essa a essência de nossa profissão?
Mais: o “alguma-coisa-o-matic” resolve um problema real e factível, como a necessidade de picar cebolas em rodelas do mesmo tamanho para não enfear a salada. Quantas campanhas, sites, redes sociais ou afins resolvem um problema real e factível do cliente? E quantos são investimentos feitos simplesmente em… seguir tendências?
Creio que é com isso que deveríamos nos preocupar daqui pra frente. Como agências, estamos nos comportando, ou ao menos nos tornando, soluti-o-matics? Somos capazes de resistir à tentação de propor uma “plataforma crossmedia” quando o problema do cliente pede, claramente, uma campanha de varejo?
Entendemos realmente o negócio do cliente, a ponto de sermos capazes de transformá-lo na estrela, usando o melhor de nossas habilidades no manejo da palavra, da arte, da tecnologia, das pessoas e do tempo para esse fim? Mergulhamos no problema do cliente? Em todas as suas variáveis? Somos capazes de estabelecer um critério que não seja apenas qualitativo, mas qualitativo-viável?
Semana passada, fiquei feliz em ouvir que, numa palestra do Google, foi dito que apenas boas ideias não garantem inovação, o que garante inovação é executar boas ideias direito. Ou, em bom português: o pulo do gato é colocar de pé. Não é um discurso que soa simpático para muita gente, não? Mas, acredite, é tremendamente necessário, no mínimo, fazer essa reflexão.
Enquanto você e eu pensamos na resposta, o Fielzão, meu Lhasa Apso de 10 anos aqui do lado, me observa com seus intensos olhos negros e uma aparência de quem não tá me levando muito a sério.
O que pensa o Fiel? Provavelmente o mesmo que alguns clientes, em certos momentos. Ou seja: que eu dedico muito tempo ao acessório quando deveria estar concentrado no essencial.
Ele pode. Afinal, como um cliente que investe não mais do que muitos momentos de carinho, ele consegue que o soluti-o-matic aqui pague a Eukanuba todo mês, e não sai barato. Mas imagina a cara dele se eu aparecer com uma “plataforma nutricional”, por exemplo. Com certeza, ele morde. [Webinsider]
…………………………
Conheça os serviços de conteúdo da Rock Content..
Acompanhe o Webinsider no Twitter.
Tulio Paiva
Tulio Paiva é presidente e diretor executivo de criação da Paiva Comunicação, Twitter @paivacomunic.
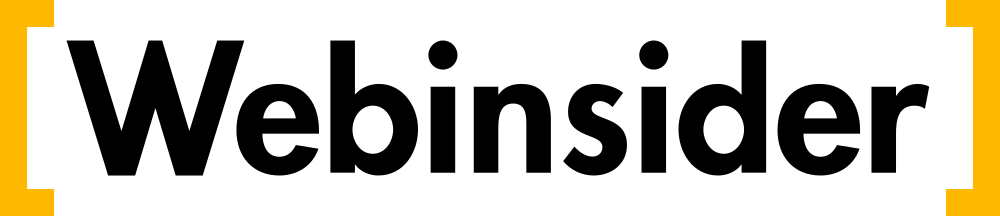

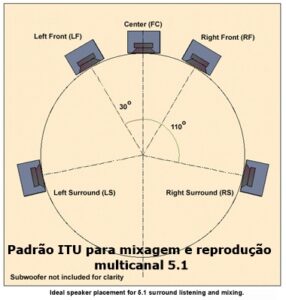
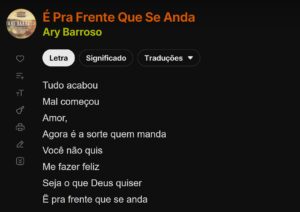



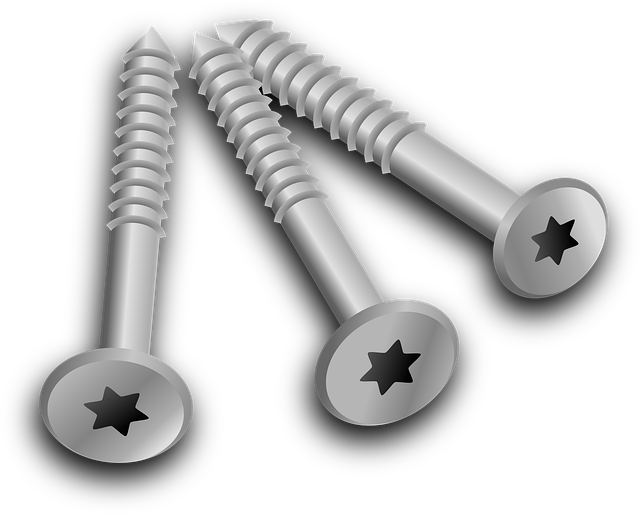

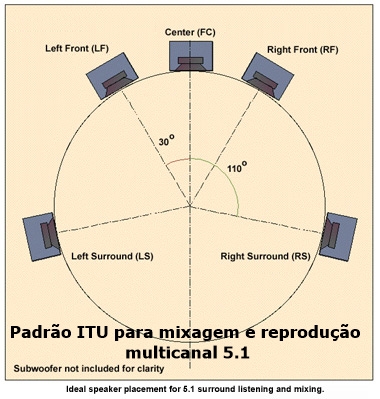
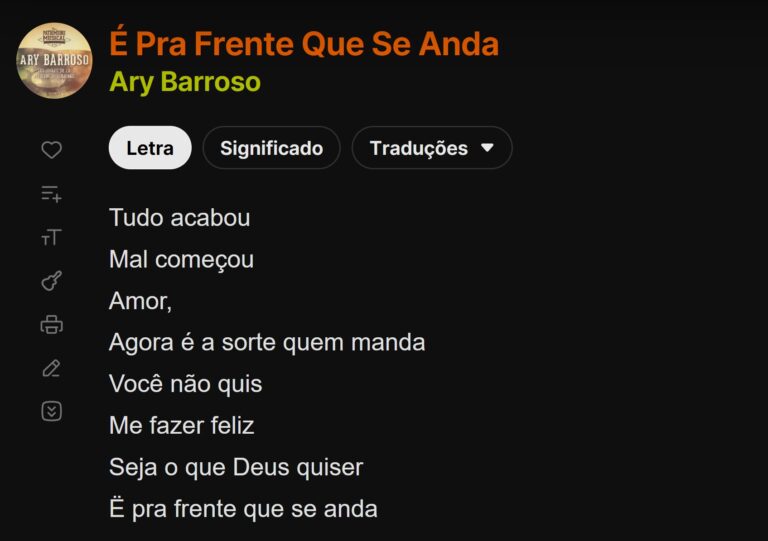




Uma resposta
Só mais um nome para os Creative Tecnologists:
http://www.chiefmartec.com/2009/02/creative-technologists-in-brand-advertising.html