A quantidade de super heróis na tela atualmente chega a impedir que qualquer coisa remotamente inteligente em termos de roteiro possa ter chance de ser exibida. O cinema de criação foi o primeiro a sofrer com isso.
Desde criança eu sempre fui um confesso admirador dos Estados Unidos da América, talvez e muito provavelmente influenciado pela enorme e maciça presença do bom cinema norte-americano, largamente distribuído nos cinemas locais. Basta dizer que o meu bairro tinha um exemplar Metro-Tijuca, exibidor do que de melhor era produzido pela M-G-M.
Aconteceu que ao fim da adolescência e agora sob a influência da cultura de um colégio Católico tradicional e de base francesa, a visão quase mística daquele país foi aos poucos desaparecendo, como se a cultura europeia tivesse tido prevalência no meu processo de educação.
E depois de certo tempo nada de fato mudou, apesar de livre da cultura “anti-imperialista”, uma visão imposta pela esquerda radical durante o período da faculdade.
Eu já viajei para a América a trabalho, e sei que o país é culturalmente diversificado, mas o que vem me chamando a atenção constantemente é o suicídio cada vez mais aparente da mídia americana, que nos tem entulhado de supostos arquétipos, que outrora compunham os super heróis das estórias em quadrinhos, chamados por lá de “comic books”.
É digno de nota que os principais super heróis tenham sido criados por descendentes de imigrantes judeus europeus, que desembarcaram em solo americano para escapar da perseguição da qual foram vítimas em solo europeu, notadamente no leste e depois na Alemanha, no período pré-guerra de 1930. Nada muito diferente, portanto, da predominância étnica que formou os grandes estúdios em Hollywood anteriormente.
E isso acabou se transformando em uma indústria que durante décadas movimenta milhões de dólares vendendo os tais “comic books”, criando programas e filmes para TV e em dezenas de produções hollywoodianas. A celebração de clubes de fãs passou a ocorrer em mais de um evento anual, quase que mistificando e divulgando agressivamente a noção do super heroísmo.
Nada dessa cultura tem semelhança com a de outros países, trata-se de um problema cultural local de um estilo de vida norte-americana, que antes prometia paz e felicidade, mas que depois se mostrou beligerante e desigual.
A formação de opinião pela mídia na mídia nas guerras
Quem estudou História no colégio sabe que a entrada norte-americana nas duas guerras mundiais foi tardia. Não havia interesse algum da administração americana em envolver o país em assuntos que não lhe diziam respeito.
Na segunda guerra especificamente, os americanos já estavam em franca beligerância com a dominação japonesa dos países vizinhos, e quando finalmente atacado, declarou guerra ao império japonês. Mas posteriormente a guerra contra o fascismo pareceu claramente uma beligerância justificada, em prol da liberdade da Europa e do resto do mundo.
Com o tempo, a situação mudou radicalmente. A paranoia militar americana se baseava no avanço dominador da Rússia, frontalmente anticapitalista. Foi aí que entrou em jogo a indústria bélica e com ela aquelas empresas que se beneficiaram financeiramente das intervenções e guerras.
No colégio se dizia que a Guerra do Vietnam era uma maneira de verter o tesouro americano para a indústria bélica, enriquecendo um grupo que se beneficiou da morte inglória de soldados jovens “a serviço do país”, e da população dos outros países onde esses mesmos soldados entraram com o objetivo de “resolver” uma situação qualquer, no caso proteger o sul do comunismo do norte.
O final deste conflito todo mundo sabe: nada do que foi prometido foi conquistado, os americanos não conseguiram dobrar os vietcongs e as famílias americanas viram seus filhos morrer por uma causa inútil, tornando assim a luta no Vietnam uma guerra impopular.
Entretanto, durante décadas a chamada “guerra fria” justificou a prontidão das forças políticas e militares americanas, para evitar a dominação da cortina de ferro, criada pela Rússia, com o nome de União Soviética, que de “União” mesmo não tinha nada, estava muito mais para pisar em cima de povos vizinhos sem defesa, em nome de uma suposta socialização da sociedade. Não deu certo, e nem poderia dar.
Com o fim da guerra fria, os Estados Unidos ficaram isolados como a maior e indisputada potência mundial. Para muitos, o desequilíbrio de forças seria o estopim de uma série de eventos extremamente perigosos.
Teoricamente, não haveria mais motivos para continuar a guerra contra o comunismo, mas a indústria bélica americana aumentou de forma descomunal e a política de intervenção ou influência política em outros países continua até hoje. Para estancar isso, nem Barack Obama deu jeito. Muitos eleitores acreditavam que ele pararia as intervenções, mas não foi isso que aconteceu. E por quê? Para quem está de fora, como nós outros, as explicações não aparentam serem muito fáceis de achar.
Tirar dinheiro de uma criança
Anos atrás uma colega da universidade, que tem uma filha com dupla nacionalidade, foi ao Estados Unidos, em um desses momentos onde os americanos atacaram o país de alguém, Iraque, se não me engano. E voltou de lá horrorizada com o apoio da mídia jornalística ao conflito.
Coincidência ou não, a inundação de personagens calcados no super heroísmo não pode, a meu ver, ser uma mera coincidência.
E mesmo que assim não o fosse, a realidade é que o superfaturamento da indústria de brinquedos com conteúdo militar (bonecos tipo G.I. Joe e produtos correlatos, por exemplo) ou de heróis de cinema em conflito (como os de Star Wars) se ampara na necessidade de afirmação do indivíduo comum de classe média, que luta para sobreviver e não vê meios de conquistar o que anteriormente se chamava de “sonho americano”, isto é começar de baixo e vencer na vida, ficar rico, etc.
No seriado recente “The Toys That Made Us” (sem título em português no serviço de streaming) se exibe a maneira pela qual bilhões de dólares foram gastos pela população americana, em bonecos que foram posteriormente foram propositalmente denominados de “action figures” e não “bonecos”, para evitar que meninos ficassem inibidos ou embaraçados ao pedir aos pais para comprá-los.
Em um dos episódios, um dos executivos declara ter tido vergonha de tirar dinheiro de uma criança, por conta de uma ilusão criada pela indústria da diversão. Pior ainda, acrescento eu, é educar uma criança colocando nas mãos dela brinquedos com conteúdo bélico, armas, etc.
Em termos de cinema a situação não é nem um pouco diferente, e atualmente a quantidade de super heróis na tela chega a impedir que qualquer coisa remotamente inteligente, em termos de roteiro, possa ter chance de ser exibida! Parece óbvio que o cinema de criação, ou o cinema independente se quiserem, foi o primeiro a sofrer com isso.
Foi o que cineasta Alejandro Iñarritu classificou de “genocídio cultural”.
Hollywood abandonou o antigo estigma de “fábrica de sonhos” para abraçar a violência sem limites e sem decoro. Shows de TV passaram a exibir cadáveres que somente estudantes de cursos médicos viam ou dissecavam em aulas de Patologia.
As antigas fábricas de estória em quadrinhos, como a Marvel Comics, por exemplo, passaram a produzir seriados e filmes para cinema com o uso dos personagens criados por elas. Stan Lee, o co-criador de personagens como Homem Aranha, Hulk, etc., passou a estrelar ele próprio essas produções, aparecendo de relance em algumas cenas, copiando descaradamente Alfred Hitchcock, sendo que este fazia isso para divertir o público exclusivamente. Convenhamos: Stan Lee não é nenhum Hitchcock, nem em persona nem em criatividade cinematográfica, está mais para um narcisista compulsivo.
Pare o mundo
E nós, que não fazemos parte desta cultura, temos que aturar isso a troco de quê exatamente? O cinema comercial americano foi capaz de atrair todo mundo, inclusive europeus, mas com inovação técnica e bom roteiros. Do jeito que está, recheado de efeitos especiais e violência, não presta para nada e depõe contra a cultura americana das estórias em quadrinhos, que não nos pertence e não tem caráter de universalidade, ou se aplica a ninguém que vive em outro lugar.
Se o povo americano endossa ou se omite nas questões belicistas de seu país, o problema não é nosso. Nós aqui já temos uma enorme parcela de violência urbana com que nos preocupar, na forma de assaltos, arrastões e sequestros relâmpagos, somados à omissão de segurança do estado. Para que então nos envolvermos na violência dos outros?
O terrorismo que assola o cidadão comum vem da corrupção do sistema, das mentiras dos políticos em campanhas, das administrações públicas que sugam o nosso dinheiro em impostos e não devolvem um só centavo em benefícios como saúde ou educação, sem querer repetir um velho chavão.
Então, com que finalidade se vai ao cinema ou se assiste um seriado de TV ou streaming repleto de violência, eu pergunto. Só para fazer catarse da nossa situação urbana, quando ninguém consegue controlar assaltos e roubos? O papel do cinema é de fato catártico, mas exibir assassinatos em massa, cadáveres e transfigurações, na minha opinião, só pode ser mesmo coisa de maluco.
E aí, diante de circunstâncias indesejadas como essas, nada se podendo fazer a respeito a não ser protestar contra o status quo da mídia, a saída é nos dirigirmos a ela citando a frase do profeta compositor Raul Seixas, “Pare o mundo que eu quero descer”!
. . .
Republicado do Webinsider.
Paulo Roberto Elias
Paulo Roberto Elias é professor e pesquisador em ciências da saúde, Mestre em Ciência (M.Sc.) pelo Departamento de Bioquímica, do Instituto de Química da UFRJ, e Ph.D. em Bioquímica, pela Cardiff University, no Reino Unido.
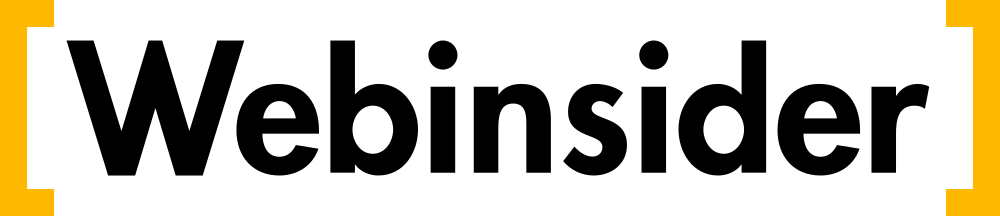


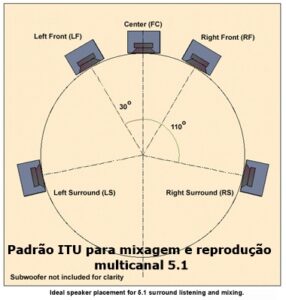
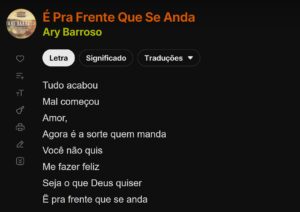



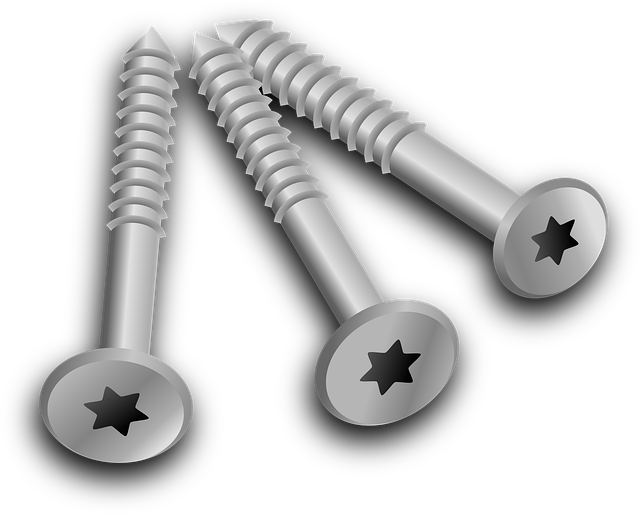

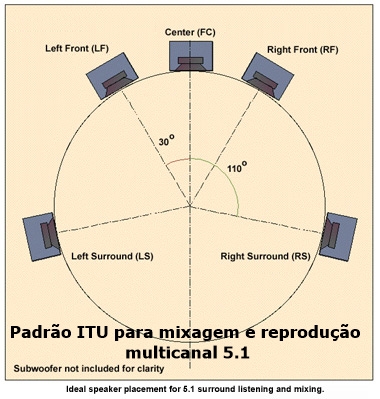
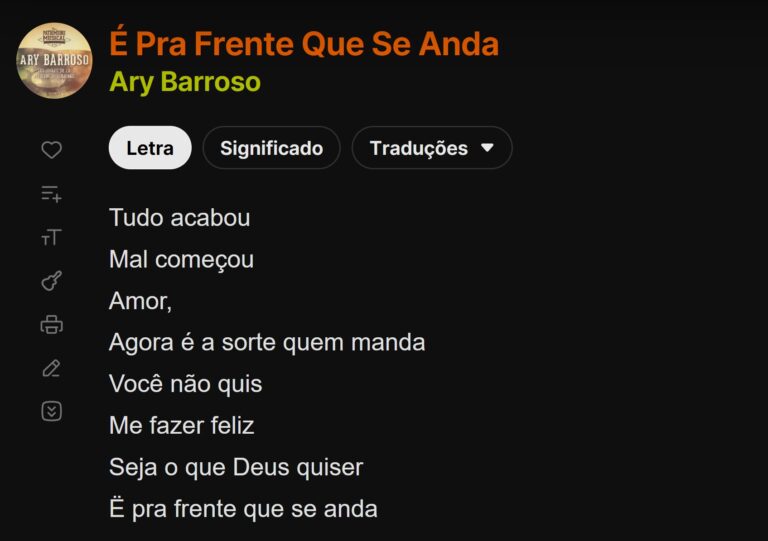




0 resposta
Fora que a criança pede para comprar. E também culpa o MUNDO INTEIRO por gostar da MARVEL e da DC.
Oi, Ricardo, na minha visão deste tipo de cultura, o que o mundo todo gosta não deveria se tornar um monopólio de mídia, nem mesmo se a retórica tivesse algum valor escapista. Mas, isso sou eu, cada um gosta do que quiser, concorda?