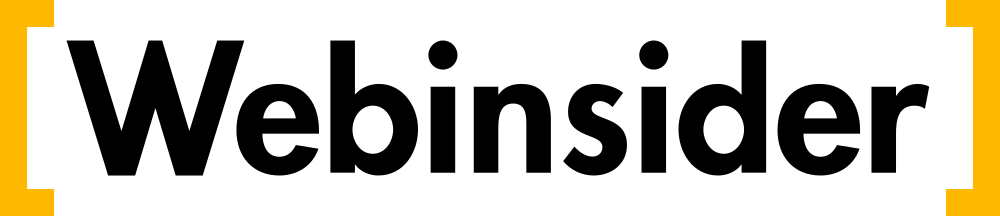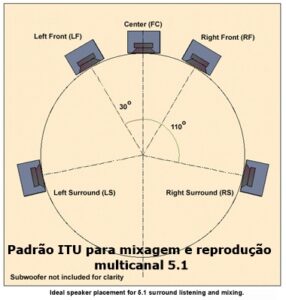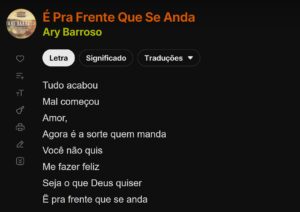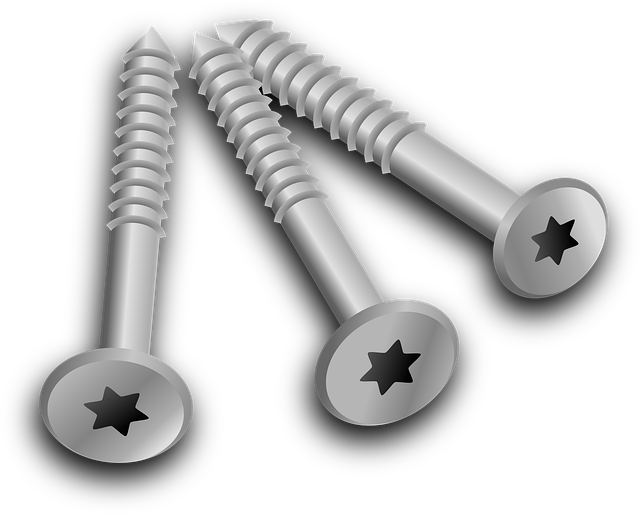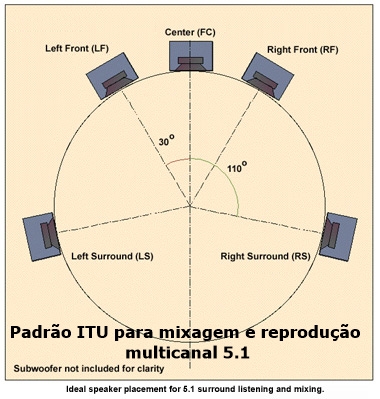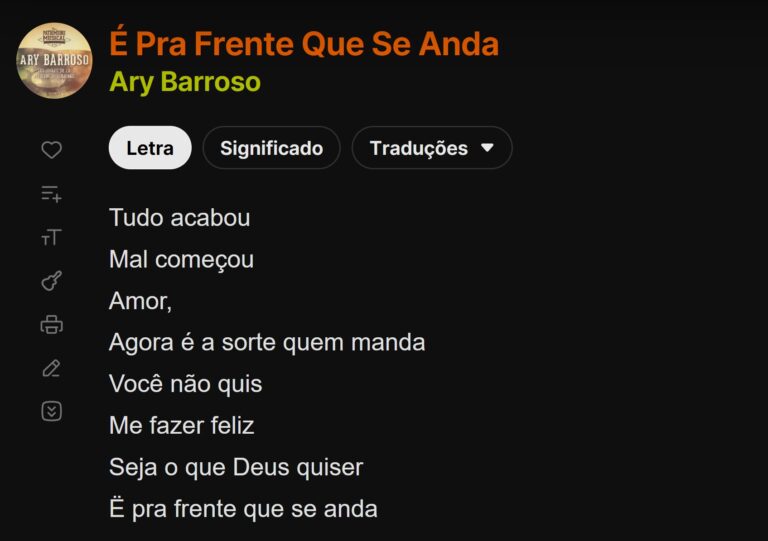O cyberpunk continua sendo uma literatura importante para ajudar a discutir o presente e o futuro. Já surge uma espécie de cyberpunk reloaded em terras brasileiras. É o caso do Sertãopunk, do Cyberagreste e do Amazofuturismo
Em seu romance Islands in the Net, de 1988, o mentor do Movimento Cyberpunk, Bruce Sterling, descreve um mundo futuro inteiramente governado por megacorporações transnacionais, através dos olhos da família estadunidense Webster.
A serviço de uma dessas corporações, a fictícia Rizome, eles são enviados para Granada numa missão diplomática. Mas o que eles veem é um mundo profundamente dividido entre uma elite megaconsumidora e países pauperizados que precisam recorrer ao sucateamento ou à pirataria para sobreviver minimamente.
E, mesmo depois de vivenciar isso, além de invasões e revoltas em Granada e Singapura (e o sequestro e prisão de uma das personagens, que passa um período longo na cadeia no Mali), eles ainda acham que a Rizome (e, por extensão, os Estados Unidos, sede da megacorp) é a melhor coisa que existe.
Nesse livro, Sterling já detecta, com ainda pouco tempo de criação do subgênero cyberpunk (que nasce em 1980, com o conto “Cyberpunk!”, de Bruce Bethke, que vocês podem ler de graça aqui), o que aconteceria com esse subgênero da ficção científica no futuro próximo: a sua comodificação.
Se tudo, com o tempo, pode virar mercadoria, e efetivamente vira, as subculturas também são sujeitas ao fetichismo da mercadoria. E justo com o cyberpunk não poderia ser diferente.
(Um exemplo a título de ilustração: minha geração, que cresceu no Brasil dos anos 1970, viu na TV um comercial de jeans que falava da liberdade que era usar uma calça jeans azul e desbotada: naquele momento o sonho hippie terminava, justamente quando um de seus símbolos começava a ser comercializado para quem pudesse pagar, num formato deliberadamente tratado para parecer hippie, mas com a chancela de uma marca aprovada pela família.)
Subculturas viram mercadoria
Subculturas também se tornam famosas através dos meios de comunicação e passam a pertencer a todos, não somente a um grupo fechado. Aquilo que Dick Hebdige, em seu clássico Subcultures – The Meaning of Style, define como um grupo de insiders, é subitamente invadido por gente de fora, o que o transforma irremediavelmente, e não necessariamente de forma positiva.
Subcultura, para Hebdige, é estilo: comportamento associado à moda, ao design, à arte. Símbolos de pertencimento que podem ser – e são – transformados em mercadoria. Quando isso acontece, a mercadoria é colocada à venda independentemente de existir afinidade entre seus compradores, mas sim um interesse em adquirir os símbolos para se dizer que pertence, o que não torna o comprador automaticamente um membro legítimo da subcultura – e essa subcultura começa a ter dificuldades de se afirmar como legítima.
O exemplo do cyberpunk é sintomático. Considerado por Fredric Jameson o subgênero literário por excelência do capitalismo tardio, o cyberpunk conquistou a geração X, primeiro nos EUA e depois em outros países, como Japão (e bem depois o Brasil) com uma mensagem política clara que poderia ser sintetizada da seguinte maneira: hackers contra megacorps.
Evidentemente que a mensagem é mais complexa que isso. Em Neuromancer, por exemplo, em que pese o fato de que o próprio autor, William Gibson, sempre disse que sua intenção era muito mais escrever um romance noir à maneira de Raymond Chandler, a luta contra o sistema é muito evidente – não só na figura do hacker Case como na da samurai de rua Molly Millions, que entre outras coisas já havia trabalhado como escrava sexual (com a mente controlada como uma boneca de carne, sendo verdadeiramente possuída pelo capital na sua forma mais degenerada) e os rastas da comunidade orbital Zion, que vão para o espaço para tentar ter mais liberdade e recusam o ciberespaço porque segundo eles seria simplesmente Babilônia, o símbolo da corrupção absoluta. E quem há de negar que eles tinham razão?
Avançamos quarenta anos no futuro. E um espectro ronda o mundo: o cyberpunk, agora tão ressuscitado quanto o quarto filme da franquia Matrix, ela mesma um subproduto da estética cyber de fim de milênio, cujos três primeiros filmes podem ser interpretados como tragédia, enquanto que o último revela tudo como farsa.
Cyberpunk not dead
O primeiro Matrix data de 1999, e de certa forma já estava datado: ainda em 1986, quando Sterling edita a antologia Mirrorshades (ainda inédita no Brasil) ele já anuncia ali que o movimento cyberpunk acabou. Seus membros foram fazer outras coisas, embora ainda ligados a um viés político da ficção científica ou de pensar o futuro.
Sterling, por exemplo, hoje vive em Turim e é futurista, viajando o mundo para dar palestras e conferências sobre arte e mídia; Gibson segue escrevendo trilogias, e a mais recente, composta por The Peripheral (que estreou em 2022 como série na Amazon mas foi cancelada este ano devido à greve dos roteiristas), Agency e um terceiro titulo ainda por sair, tem como base um conto publicado justamente naquela antologia seminal: Mozart in Mirrorshades, que nos mostra um futuro onde a viagem entre universos paralelos foi descoberta, e é usada pela nossa realidade para invadir e colonizar outras, transformando outros tempos e outras terras em colônias de extrativismo desta.
O cyberpunk, ao contrário do que muitos (entre os quais eu mesmo me incluo) já disseram, não morreu. Mas também não é mais o subgênero de Neuromancer. Hoje ele existe em várias vertentes, no Brasil e no exterior. Lá fora, temos autoras como Malka Older e Sarah Pinsker, autoras respectivamente dos premiados Infomocracy e A Song for a New Day (ambos também inéditos no Brasil) que seguiram a nobre senda fundada pelo movimento, mas discutindo eventos mais recentes como eleições e pandemias.
Aqui, parte dos cyberpunks ainda se apega muito mais a carros voadores (que a rigor nunca existiram na literatura cyberpunk do movimento, mas sim em filmes como Blade Runner, que é acolhido pelo movimento posteriormente mas na verdade é uma adaptação do romance Andróides Sonham com Ovelhas Elétricas?, de Philip K. Dick, escrito na década de 1960 e portanto anterior ao movimento, ainda que tenha sido um de seus inspiradores) e estética do que política propriamente dita.
Sertãopunk
Entretanto, já surge uma espécie de cyberpunk reloaded em terras brasileiras. É o caso do Sertãopunk, do Cyberagreste e do Amazofuturismo. Esses novos modos de criar narrativas cyberpunk apareceram nos últimos 3 ou 4 anos, por jovens criadoras e criadores, e têm voltado o foco para questões de gênero e racismo.
Temos cada vez mais protagonistas jovens, negros e indígenas, com deficiência, LGBTs e não-binários. A maioria dessas narrativas, contudo, ainda permanece ligada à primeira era cyberpunk, e não consegue sair da dicotomia hackers x megacorps malignas. Errados eles não estão: megacorporações não são boazinhas, mas o mundo continua complexo demais para esse tipo de simplificação.
Talvez o problema esteja em outra palavra, que até o momento não foi escrita neste texto: distopia. Como o cyberpunk tende a ser distópico, houve (principalmente no Brasil) uma tendência nos últimos anos a substituir inteiramente o termo “ficção científica” por “distopia”, a ponto de editoras e resenhistas classificarem como distópicos livros ambientados em lugares e épocas que não têm a ver com o adjetivo.
Ficção científina não é sinônimo de distopia
A dificuldade de se nomear uma narrativa somente como “ficção científica” pode estar ligada à ideia (já datada) de que esse tipo de narrativa é inteiramente dependente da ciência. Não é: quase cem anos depois que Hugo Gernsback cunhou essa expressão para classificar narrativas que pudessem ter um papel de divulgação da ciência, suas autoras e autores encontraram outras formas de expressão. A distopia pertence a essa estrutura de narrativas, mas a FC como um todo não pode ser equacionada puramente às narrativas de caráter distópico.
A pergunta que não quer calar (e que sempre deve ser feita) é a mesma que Lênin enunciou em seu livro: o que fazer? Avançar ainda mais no território da diversidade? Com certeza. Mas avançar também no modo narrativo que é a ficção científica, e amadurecer discussões sobre uma nova sociedade pós- (e anti) colonial. O cyberpunk continua sendo uma literatura importante para ajudar a discutir o presente e o futuro. [Webinsider]
. . .
Jackpot, o apocalipse lento e gradual segundo William Gibson
Fábio Fernandes
Fábio Fernandes é jornalista, tradutor e escritor. Na PUC-SP, é responsável pelo grupo de pesquisa Observatório do Futuro, que estuda narrativas de ficção científica e a forma como elas interpretam e são interpretadas pelo campo do real.